A disseminação de informações errôneas (‘misinformation’) tem crescido, e o setor humanitário não está imune às consequências deste fenômeno. O ambiente de informações errôneas não apenas é sustentado por um ciclo vicioso, como também aumenta os desafios relacionados à proteção de dados e interfere na proteção humanitária e no trabalho de assistência.
Neste artigo, Rachel Xu, do Jackson Institute for Global Affairs da Universidade de Yale, analisa algumas das principais características de um ambiente fértil para a proliferação de informações incorretas, os desafios que isto representa para a proteção de dados, e como informações desta natureza impactam as operações humanitárias.
As informações errôneas (misinformation) passaram a ser uma onipresença indesejável na vida digital. Embora a propaganda e as histórias falsas não sejam algo novo, a comunicação digital permitiu uma proliferação sem precedentes de informações incorretas, situação que se agravou com a pandemia de COVID-19. Apesar de muitas preocupações se concentrarem no modo como as informações incorretas afetam os discursos on-line e o bem-estar social, a forma como elas se traduzem em danos físicos no mundo real são relativamente mal compreendidas, especialmente durante crises de saúde e/ou humanitárias. Compreender como as informações falsas podem ser utilizadas para prejudicar as operações humanitárias e as populações vulneráveis é um primeiro passo crucial.
O ambiente digital facilita a disseminação de informações incorretas…
Muitas vezes, as discussões em torno das informações errôneas [1] abordam o papel de agentes maliciosos ou bots automatizados – afinal de contas, a automação digital permitiu que informações incorretas fossem difundidas em uma escala e velocidade nunca antes vistas. No entanto, embora os bots e os agentes maliciosos espalhem e semeiem informações incorretas, grande parte do problema tem a ver com o próprio ecossistema de informação, composto por uma rede de pessoas que é moldada pela forma como elas compartilham e reagem à informação. De forma isolada, as informações falsas são relativamente inofensivas; entretanto, tornam-se prejudiciais quando as pessoas absorvem informação, interpretam de acordo com seus próprios preconceitos e se sentem compelidas a agir. Há uma série de características que tornam o atual um terreno fértil para as informações errôneas.
Para começar, as informações falsas se espalham mais rapidamente do que as informações verdadeiras. Em um estudo em larga escala sobre notícias falsas, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) constatou que histórias falsas circulam, em média, seis vezes mais rápido do que histórias verdadeiras. Notavelmente, descobriu-se que isso não era resultado do trabalho dos bots, já que eles compartilhavam histórias verdadeiras e falsas aproximadamente na mesma proporção. Na verdade, eram os mais propensos a compartilhar informações falsas. O estudo observou duas qualidades relacionadas às informações falsas que fazem com que elas levem vantagem em comparação com as informações verdadeiras: a novidade e a raiva. É mais provável que as notícias falsas sejam novas (devido ao fato de serem, efetivamente, falsas) e raivosas (já que geralmente buscam provocar uma reação). Sem o engajamento crítico e uma mais ampla por parte do leitor, a novidade chama a sua atenção e a raiva o incita a transmiti-la.
Além disso, o volume de informação disponível é excessivo. Em um ambiente comunicacional tradicional, as informações falsas poderiam ser descartadas através da checagem feita por fontes confiáveis, da verificação independente dos fatos e/ou do bom senso individual. No atual ambiente comunicacional, entretanto, o volume de informação é imenso, e o ruído que ele provoca faz qualquer história parecer potencialmente viável ou possivelmente suspeita. Inundar o ambiente comunicacional é uma tática de desinformação comum utilizada por diferentes agentes para desestabilizar a esfera pública, e o fato de as redes sociais não adotarem padrões jornalísticos ou de reportagem contribui para agravar o problema. Todas as pessoas podem estar nas plataformas e, em teoria, todas as vozes são igualmente válidas. Para abrir caminho em meio ao caos, portanto, o mais provável é que os usuários recorram a seus próprios preconceitos e busquem informações com as quais estejam alinhados e que confirmem sua visão de mundo.
Como resultado, as informações incorretas geram um ciclo vicioso que se retroalimenta, e os rumores prosperam graças ao medo e ao preconceito. As pessoas são mais propensas a acreditar em rumores se estiverem com medo, incertas sobre seu futuro, sentindo-se vulneráveis ou com pouca capacidade de arbítrio. À medida que procuram atalhos para navegar em meio à sobrecarga de informação, as pessoas terminam usando seus preconceitos como uma âncors. Novas informações que validem este preconceito são, desta forma, mais facilmente aceitas do que informações que possam contradizê-lo, o que, por sua vez, gera mais medo e preconceito, aumentando a probabilidade de aceitar e transmitir informações preconceituosas ou falsas no futuro. O fato de que os seres humanos tendem a se agrupar em torno de ideias semelhantes fortalece ainda mais estas câmaras de eco.
Este ambiente de medo e preconceito atinge o seu auge durante crises de saúde, e tornou-se particularmente evidente desde o surgimento da COVID-19, período em que rumores, estigmas e teorias da conspiração resultaram em um aumento da discriminação e da violência contra grupos demográficos específicos. As crises sanitárias também tendem a elevar o uso de ferramentas digitais e baseadas em dados para conter a propagação e alocar recursos. Com a maior circulação de informações errôneas e de preconceitos, assim como o aumento da coleta e uso de dados, a proteção digital em tempos de crise é fundamental.
No entanto, a proteção de dados em ambientes de crise também pode ser mais desafiadora. Em um ambiente sobrecarregado de informação, por exemplo, onde a informação falsa está em vantagem, torna-se difícil para as pessoas distinguir o processamento de dados seguro e legítimo da coleta ilegal de dados ou fraudes. E isto é particularmente preocupante em tempos de crise, porque as pessoas estão mais dispostas a sacrificar informações pessoais, direitos e liberdades na tentativa de garantir segurança e proteção. Além disso, os dados pessoais podem ser utilizados para fins de microssegmentação, criando ambientes on-line personalizados. Esta proliferação de realidades on-line individualizadas consolida câmaras de eco sociais mais propensas a aceitar e disseminar informações errôneas.
… o que torna as táticas de desinformação mais eficazes
Um ambiente propício à disseminação de informações errôneas torna as campanhas de desinformação (‘disinformation’) mais poderosas. Embora até o momento existam poucos estudos sistemáticos sobre campanhas de desinformação e proliferação de informações incorretas no setor humanitário, a quantidade de estudos de caso documentados tem aumentado.
No ambiente informacional digital descrito anteriormente, as campanhas de desinformação podem ser altamente eficazes quando usadas contra operações humanitárias. À medida que as operações humanitárias tornam-se cada vez mais digitais, as estratégias devem passar a considerar não apenas a segurança cibernética (discutida de forma mais detalhada na série Hacking Humanitarians deste blog, mas também o estado do ambiente informacional mais amplo e a propensão de que informações falsas se propaguem e interfiram nas operações.
As campanhas de desinformação podem ser implementadas tanto pelo Estado como por agentes não governamentais ou privados, e veiculadas por distintos meios de comunicação, muitas vezes com a utilização simultânea de diversas redes e visando públicos múltiplos. Geralmente, as campanhas de desinformação impactam o setor humanitário de três formas:
Em primeiro lugar, podem contribuir para criar novas crises e/ou exacerbar as existentes. Agentes maliciosos podem se aproveitar do ambiente informacional para facilitar um efeito cinético, como o deslocamento forçado de populações, e/ou incitar a violência contra populações específicas. Esta tática de desinformação utiliza o ambiente para construir juízos e preconceitos que incitam ações ou comportamentos violentos.
Em segundo, agentes maliciosos também podem tirar proveito do ambiente informacional para perturbar ou inviabilizar atividades humanitárias através da criação de campanhas difamatórias contra as organizações, manchando sua imagem e minando, assim, a confiança das pessoas. As operações humanitárias dependem da confiança das partes interessadas, que incluem – mas não se limitam a – populações vulneráveis, agentes do Estado e agentes armados não estatais. É o princípio humanitário da neutralidade o que possibilita aos trabalhadores humanitários atuar com segurança em contextos perigosos e politicamente tensos, prestando assistência sem medo de ataques. Entretanto, se não houver confiança, não há acesso seguro, o que coloca em risco tanto as operações humanitárias quanto os trabalhadores do setor.
Em terceiro lugar, as campanhas de desinformação podem diminuir a vontade política. As campanhas de desinformação muitas vezes têm como alvo o público em geral, e podem moldar opiniões sobre crises internacionais graves.[2] Ao desestabilizar a opinião pública em países que estão em posição de prestar ajuda humanitária, agentes maliciosos podem reduzir a pressão política e a disposição para apoiar atividades humanitárias em países que enfrentam conflitos ou outras situações de violência.
Quanto mais aprendemos sobre a disseminação de informações errôneas, mais chegamos à conclusão de que não há vacinas infalíveis contra ela. Discussões importantes sobre a alfabetização midiática e a regulação das plataformas sociais privadas já vêm acontecendo mas, para os trabalhadores humanitários, o primeiro passo crucial é investir em pesquisas mais sistemáticas sobre a disseminação de informações incorretas e a desinformação no setor humanitário. Há exemplos suficientes indicando como a desinformação tem impactado de forma significativa a atividade humanitária, e os riscos são elevados. Assim como os trabalhadores humanitários digitais necessitam, antes de qualquer coisa, compreender e definir o âmbito de suas operações digitais para desenvolver estratégias cibernéticas legais, técnicas e operacionais coerentes, as organizações humanitárias devem ser capazes de compreender melhor as tendências e de categorizar adequadamente os ataques, de modo a poder combatê-los. Além disso, a documentação sistemática é crucial para elucidar os danos causados a outros agentes, como as empresas privadas, e forçá-los a agir.
Em uma sociedade digital complexa que busca replicar a vida real em espaços on-line, as formas de comunicação continuarão evoluindo, e o único caminho para encontrar soluções é acompanhar essa evolução. Compreender o problema e reconhecer as vulnerabilidades no status quo à medida que elas surgem é apenas um dos muitos passos necessários para garantir um ambiente digital mais seguro para todas as pessoas.
[1] Informações errôneas (misinformation) são informações incorretas que podem ser disseminadas independentemente de qualquer intenção de enganar. São frequentemente difundidas por pessoas que acreditam na sua veracidade. A origem dessas informações pode estar relacionada a um mal-entendido genuíno, mas também pode corresponder a uma campanha de desinformação direcionada. Já a desinformação (disinformation) é a informação falsa difundida (muitas vezes de forma encoberta) com a intenção deliberada de enganar ou exercer algum tipo de influência. A desinformação pode semear e proliferar informações incorretas no ambiente informacional (para além das informações errôneas decorrentes de mal-entendidos genuínos).
[2] Watts, Clint. Messing with the Enemy: Surviving in a Social Media World of Hackers, Terrorists, Russians, and Fake News. Harper Business, 2018.
Veja também
- Massimo Marelli & Martin Schüepp, Hacking humanitarians: operational dialogue and cyberspace, 4 de junho de 2020
- Massimo Marelli & Adrian Perrig, Hacking humanitarians: mapping the cyber environment and threat landscape, 7 de maio de 2020
- Massimo Marelli, Hacking Humanitarians: moving towards a humanitarian cybersecurity strategy, 16 de janeiro de 2020


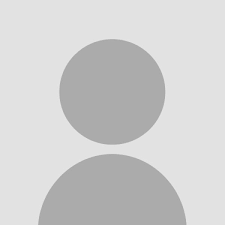



Comments